
Existe um tipo de conceção da atividade artística que insiste em sobreviver a estes tempos de esmagamento neoliberal e a sua sensibilidade filistina. Em Portugal a ideologia reinante tem levado cada vez mais à uma reação ao cinema contemplativo, ao qual o cinema lusitano é frequentemente associado, através de uma procura atabalhoada por filmes populares. Estes, por sua vez, de tempos em tempos cumprem o seu objetivo (ganhar dinheiro), mas a qualidade é globalmente péssima. Por isso e até ver, a “arthouse” portuguesa continua a ser o único refúgio de quem procure qualidade por estes lados.
O realizador Vítor Gonçalves parece estar tão alheio a estas quimeras quotidianas quanto o seu protagonista, que deambula fantasmagoricamente por corredores imensos e casas antigas, metaforicamente indicando a sua extrema dificuldade em viver no mundo real. Este se apresenta a ele através de memórias que representam um contexto de crise: um grande amigo moribundo, a ex-namorada, o emprego a sofrer mudanças que lhe interessam tanto quanto o próprio trabalho em si.
Mais do que explicações (onde os diálogos trafegam perigosamente entre o lacónico proposital e o fútil) que tampouco são fornecidas pela narrativa em off – ela própria contendo um texto vago e só em momentos focado no que se está a passar – Gonçalves investe numa composição visual baseada, entre outros elementos, no trabalho dos atores.
Este é marcado pela expressividade (destaque para o belo trabalho junto da atriz Maria João Pinho, que transborda efusividade ao oferecer o contraponto ideal ao etéreo protagonista, vivido por Filipe Duarte), pelo seu enquadramento, que os posiciona em sentidos opostos ou diagonais (ou mesmo um a encobrir parcialmente a visão do outro), mas sempre a transmitir incómodo e incomunicabilidade – e privilegiando as frequentes penumbras aos closes. O lento desencadear deste processo aprofunda cada vez mais o seu evasivo personagem principal – representando também ele um alter-ego antigo, repleto de negação e autocomiseração poética – no mundo dos mortos, onde os fiapos que o conectam ao universo exterior deterioram-se irrevogavelmente.
Embora tudo isso seja filmado com grande segurança, a obra não escapa, por outro lado, aos maiores vícios do cinema contemplativo, sem maior imaginação para apresentar os personagens do que pô-los a fazer as malas, lavar pratos e a escrever relatórios, tornando o primeiro terço entediante.
O Melhor: a segunda metade, onde uma história fortemente interior tem uma bela leitura visual; o trabalho dos atores
O Pior: os vícios do cinema de autor, com tempos mortos nem sempre justificáveis
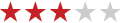
Roni Nunes

