
Tendo sido apelidado como um dos filmes-choque de uma mesma edição Cannes que recebeu também Lars von Trier no seu modo mais psicótico, Sauvage surge precisamente no tempo certo.
Numa época onde tanto se fala em legalizar/regulamentar o trabalho sexual, ou até questionar essa atividade enquanto trabalho, argumentando que o corpo é mais mercadoria que força, esta estreia de Camille Vidal-Naquet tem tudo para incendiar ainda mais debates, e reforçar tanto noções abolicionistas (aquelas que defendem que devemos a todo o custo repudiar a prostituição como trabalho digno) como noções libertárias do corpo como instrumento deste “trabalho” em concreto.
Leo tem 22 anos e já não sabe há quanto tempo vende o corpo em troca de dinheiro para ir sobrevivendo. Ou não quer dizer, dado que esta informação surge via uma consulta médica. Afirma-se como gay, ao contrário do seu protegé de rua pelo qual nutre um amor inconfessável, daqueles amores de adolescência que teimam em ser não correspondidos, se não contarmos a violência como correspondência…
Por um lado, não há ilusões aqui para esta Cabiria dos tempos modernos – o realismo não é o de Fellini, mas sim o de outros franceses pós-nouvelle vague. Vem até estranhamente à memória (talvez por uma revisão recente) Sans Toi Ni Loi (Sem Eira Nem Beira) de Agnés Varda (1985), no qual uma outra figura “renegada” da sociedade deambula pelas ruas, por lares diferentes, procurando o seu lugar numa sociedade que não a compreende – nesse, o olhar sempre enigmático das pretensões da protagonista e das origens para este estatuto “sem abrigo” eram discutidos pelos “olhos” de quem se cruzava em narrações episódicas; aqui, o olhar está todo concentrado no corpo desnudado entregue pelo cada vez mais impressionante Félix Maritaud (120 Batimentos Por Minuto, Un Couteau Dans Le Coeur).

E não se trata apenas de mostrar nudez (e sexo) entre homens para chocar o homem heterossexual branco, o que mais facilmente terá um instinto (social?) em querer salvar estes rebeldes, colocando-os em posições sociais mais confortáveis – mesmo que não estivesse dinheiro envolvido na transação. Trata-se, lá está, de abrir as nossas lentes limitadas constantemente por uma discussão que teima também ele em não expandir, e não aceitar que a vida de um prostituto de rua não é glamorosa, sim, mas que há um espectro nestes encontros e vão surgir outras atividades em complemento ou alternativa à penetração peniana, da manifestação de empatia e carinho terapêuticos (mesmo que a troco de dinheiro) às violências/violações de dignidade mais revoltantes, a roçar a certo ponto o masoquismo, traço não tão incomum da nossa natureza enquanto espécie como se possa pensar.
O protagonista acaba por aturar todas estas violências – físicas, psicológicas, sentimentais – para no final querer apenas poder respirar, literalmente e metaforicamente. E se respirar implicar querer usar o corpo como um uniforme, uma máquina verhoeviana (referência assumida a Kyle Buchanon em entrevista) que se retoca, costura, e se vira do avesso, eis talvez a maior provocação. Vidal-Naquet acaba por sugerir assim, pelo menos para este espectador, que a “salvação branca” pode ser em si um final bem mais deprimente do que poderíamos esperar, também aí deitando uma acha à fogueira ao debate público…
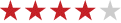
André Gonçalves

