
Desde que começamos a aprender como o mundo funciona, tendemos também, por influência social, a categorizar pessoas por traços específicos que possam resumir em poucas palavras o que a pessoa é. A loira, o judeu, o preto… e o paneleiro, o maricas.
No caso da orientação sexual, o caso é diferente de outros traços fisicamente intrínsecos, como a raça. Tal como o diretor da escola de teatro onde Marvin ingressa nos diz, um português de segunda geração: um miúdo negro vítima de bullying pode chegar a casa e ter o reconhecimento do trauma pela própria mãe; um homossexual não. E assim, a história de um coming out não é apenas e só uma história de bullying; claro que Marvin tem, ao assumir querer contar uma história de passagem à maturidade via revelação de uma identidade tanto social como sexual, o obstáculo de se inserir num portfólio de imagens já muito vistas para quem é dado às andanças queer.
Sim, esta “bela educação” de Marvin (encarnado por Finnegan Oldfield, uma nova revelação que pelo menos os Césares souberam reconhecer) é idêntica a tantas outras educações humanas. Mas se olharmos para o filme com alguma atenção, conseguimos notar, através dos ziguezagues que vai fazendo com notória facilidade ao espaço-tempo (mérito também da montagem), que a história típica de um coming out e a sua teatrialidade posterior são tratados com uma sobreconsciência das nossas imperfeições e ambiguidades morais (da nossa humanidade!) que tanto esperávamos de outro cinema mais aclamado dos últimos anos (i.e. Moonlight, onde a montagem foi praticamente o filme, e não a composição em si). Não há bons e maus aqui: há, quanto muito, os incluídos e os excluídos. Por outras palavras, sim, somos tão imperfeitos como a família que nos criou; podemos não saber demonstrar algo tão aparentemente simples, na sua forma tão mediatizada em histórias de final feliz, como o amor por outro (como a belíssima cena do comboio nos mostra, com o tempero suficiente, sem sobrecarregar). Os nossos pais não são arquétipos de super-heróis ou super-vilões: são pessoas como nós, que provavelmente não conseguiram ter o acesso à educação que um outro meio social teria oferecido de bandeja. Podemos tentar buscar reconhecimento na burguesia como meio de escape ou de validação posterior, mas a família efetivamente é a que nos acondicionou, e sangra connosco. A responsável é, mera coincidência, uma mulher: Anne Fontaine, que realizou e co-escreveu o argumento.
Há claro, pelo meio, outra mulher a fazer estragos nesta história de transgressão de expectativas de género: Isabelle Huppert, a fazer dela própria (criando ainda assim uma nova persona?), anjo de redenção do homossexual ostracizado. E a fechar uma canção clássica de Lisa Gerrard. Pode-se acusar o filme de ser lírico, teatral ou até não trazer nada de novo à mesa. Aceita-se. Neste teatro da vida, porém, as notas queer da vida de Marvin, num risco irónico de passarem à margem do mainstream, tão bem doseadas na sua universalidade e na maturidade de reconhecer a imperfeição de todos os seus atores, falam mais a esta alma humana que outros casos de sucesso tidos como vanguardistas (quando são efetivamente tão ou mais genéricos que este filme).
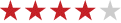
André Gonçalves

