
Eu, Tonya representa um esforço notável da equipa de criação liderada por Craig Gillespie em operar uma proposta diferenciada da fórmula escrita em pedra das biopics a Hollywood – falando-se de filmes inseridos numa máquina global de promoção e venda. E a prova da ousadia é a exclusão do filme da lista final dos Oscars.
Posto isso, o problema do realismo no cinema é insolúvel. Nos paquidermes académicos a louca corrida pelo hiper-realismo frequentemente termina em make-ups irrepreensíveis, maneirismos interpretativos com piscadelas aos prémios e propaganda para vender códigos morais; no cinema alternativo há do melhor (tentativa do autor em recriar “estados de espírito” em vez de factos/ações) e do pior – a epidemia dos docudramas afogados no insosso do quotidiano ou, pior ainda, auto adornando-se com bijuteria estilística para parecer hipster.
A história em si era dificílima. A patinadora artística Tonya Harding passou a história por ter sido condenada, em 1994, por cumplicidade com o marido num ataque executado para partir a perna à sua rival, Nancy Kerrigan, às vésperas das Olimpíadas de inverno de Lillehammer (Noruega). Na altura ela era a única americana a conseguir uma manobra chamada triple axel. Foi multada, enxovalhada publicamente e banida do desporto que amava e que representava o seu único diferencial numa existência marcada pelo abuso, pela negligência, pela pobreza. Já o cônjuge tornou-se, nas suas próprias palavras, “a pessoa mais odiada da América”.
Em Eu, Tonya, Gillespie demonstra que é possível abordar fragmentos credíveis de realidade através de uma narrativa de ficção tradicional sem ser, necessariamente, falso. Ao mesmo tempo, no que diz respeito ao entertaining, uma história particularmente triste de abuso infantil, violência doméstica, ignorância tosca e uma terrível falta de sorte é transformada em algo visceral que não despreza a refrescante desfaçatez da farsa, com o recurso de simular depoimentos “verídicos” feitos pelos próprios atores e com o rompimento constante da quarta parede.

É uma via complicada: Steven Rogers (argumento) e Gillespie transformam uma existência grotesca em algo palatável, ainda que longe de ser uma comédia. E, visto de longe, a repetição diária da brutalidade por aquelas pessoas não lhes fazem parecer tragicómicas? Ao mesmo tempo, as saídas para esta armadilha no cinema mainstream não são abundantes: um autor de qualidade transforma a violência humana num espetáculo existencial e de visualização desagradável (Martin Scorcese em O Touro Enraivecido, por exemplo); mas, mais facilmente, a abordagem excessivamente dramática e sem grande talento no comando desemboca em insuportáveis dramas no limite da telenovela. O trabalho de cinematografia de Nicolas Karakatsanis e da edição de Tatiana S. Riegel trabalham lindamente para enaltecer os esforços da atriz e coprodutora Margot Robbie – culminando com um final belíssimo (as cenas que alternam os dois ringues).
Eu, Tonya opera (bem) no limite do possível e é necessário não perder de vista um comentário muito pertinente feito por Kerrigan a propósito do filme: “a vítima fui eu”. Certamente – e de um dos episódios mais sórdidos da história do desporto. Mas, com o filme a encerrar com uma pérola da sabedoria (para efeitos de cinema comercial), justamente sobre o caráter relativo da verdade, cabe perguntar: quem perdeu mais?
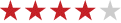
Roni Nunes

