
Se a chamada “trilogia Cornetto” (“Shaun of the Dead“, “Hot Fuzz“, “The World’s End“) e “Scott Pilgrim vs the World” não tinham sido provas suficientes, Baby Driver cimenta a ideia que Edgar Wright é um “geek” às direitas, dotado de capital cultural capaz de invejar até “hipsters” de bancada, para os quais dirige os seus filmes, sendo que a reação não é de todo universal, como se tem visto cá em Portugal (e nomeadamente pela crítica do meu colega Hugo [1]).
Inspirado nos filmes de golpe, e mais concretamente no fascínio que a figura do condutor “cool” pode assumir, Wright não tem vergonha de construir uma teia de referências cinematográficas e musicais cuidadosamente pensadas. Não há travão para este filme, que trata uma perseguição de carro e o conhecer de um interesse romântico com exatamente a mesma garra frenética. Que não se preocupa em bater nas paredes, em construir um universo pessoal de referências audiovisuais maiores que a vida.
Muito se tem falado de Tarantino, e há inevitavelmente esse paralelo, mas o tom mágico e a sua musicalidade “nonstop” e este filmar tudo “para os tímpanos poderem ver o que os olhos possam não captar” lembrarão também, do cinema mais contemporâneo, de Baz Luhrmann (“Moulin Rouge!“) ou Cameron Crowe (“Almost Famous“), duas das maiores descobertas dos 90s entretanto caídos em desgraça, e até a ousadia relativamente subestimada de McG na sua adaptação de “Anjos de Charlie“. A justificação para este método? Simples. O motorista “Baby” (um Ansel Elgort virtualmente perfeito no que tem para executar), protagonista do filme, sofre precisamente de um zumbido nos tímpanos fruto de um acidente trágico passado, e precisa de música a toda a hora para fazê-lo abstrair-se.
No centro deste universo, temos então um romance, tratado com uma ingenuidade (facilmente atacável, lá está) de quem descobre o primeiro amor, entre Baby e uma empregada de snack-bar (Se Edgar Wright pode ainda ser acusado de não tratar tão bem as suas personagens femininas como as masculinas, pelo menos escolhe quem faça o melhor delas, como é o caso de Lily James). O amor é de facto o grande condutor aqui (“Estive apaixonado uma vez“, diz-nos numa das suas últimas falas a personagem de Kevin Spacey); o cinismo o opressor. Trate-se este “bebé” como se quiser tratar (com amor ou cinismo), não há volta a dar: estamos perante uma das cartas de amor audiovisuais à música e ao cinema mais espampanantes que este último meio nos entregou nos últimos tempos.
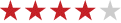
André Gonçalves