
Embora incorretamente, Nanuk, o Esquimó (1922) é considerado o primeiro documentário no formato longa-metragem da história do cinema. Se a obra de Robert J. Flaherty foi criticada (como ainda é) pela veracidade de algumas das suas cenas, hoje o seu estatuto de clássico enquanto objeto cinematográfico e, acima de tudo, peça documental, é inegável. E não foi um caso isolado. Dificilmente haverá um documentário que corresponda a “100% realidade”, devido a uma série de variáveis que se veem condicionadas na elaboração e estruturação de um filme: o que mostrar (igualmente relevante, o que não mostrar) e como mostrar (o olhar de um cineasta é algo, por si, subjetivo e, portanto, forçosamente distanciado, em menor ou maior grau, da objetividade pretendida), a fim de ser facilitada a progressão narrativa e subsequente perceção da mesma pelo espetador. E não há nada de eticamente incorreto nesta busca da verdade pelo recurso ao artificialismo porque, simplesmente, muitas das escolhas resultam de um processo pouco racionalizado, para não dizer inconsciente. Dito isto, boa parte das críticas negativas que se têm feito a A Caçadora e a Águia devido à sua autenticidade no que toca à protagonista ser ou não a primeira mulher da região a treinar este tipo de ave, parecem-nos, francamente, providas de uma enorme ingenuidade e o menos relevante para o caso.
Neste filme, seguimos a jornada de uma rapariga mongol adolescente, cuja maior ambição é seguir os passos da sua família na caça com águias, tradição já com idade superior a um milénio. No entanto, terá que enfrentar a oposição social presente nas gerações mais anciãs que se justificam com os argumentos misóginos e reacionários habituais (“o sexo feminino é mais frágil, o seu lugar é em casa a preparar chá”, como é dito), mesmo que ela tenha lutado contra todos os rapazes da turma e ganho sempre.

Falámos de Nanuk e apesar da distância geográfica (ele habitava na parte norte do Canadá) e temporal que está entre os dois retratos, é impossível o mais recente não remeter para o seu antecessor, nomeadamente na beleza e sensação de isolamento que estão naquelas paisagens álgidas ou na forma como a caça é encarada como uma atividade vital e essencial de honra e respeito a serem conquistados. Mas isto é o século XXI e onde antes havia tripés, hoje há drones a fazerem o ponto de vista altaneiro de avejões e GoPros atadas ao dorso dos mesmos. A melhor cena do filme é, curiosamente, aquela em que pai e filha vão capturar a águia a uma encosta rochosa. A forma como está encenada e editada tem algo de tão primordial na escolha dos planos (gerais do céu ou médios da rapariga a tentar cativá-la, como visto por alguém que estivesse à beira da encosta) como de moderno (grandes planos da ave conseguidos à custa de uma câmara ao pescoço da rapariga). É uma exemplar cena de como o clássico pode fundir-se ao moderno sem uma das partes ver-se destacada face à outra, com ambas coabitando pacificamente entre si.
Peca, no entanto, na necessidade do realizador Otto Bell em transformar esta obra em algo mais moralizador, tanto em termos estéticos – sequências filmadas em contraluz (é o efeito Malick a sentir-se) ou em ralentis de voos e cavalgadas, derivativos dos documentários do National Geographic – como em termos narrativos (a moldagem desta história oriental como uma mensagem pró-feminista “acredita e tu consegues” para as civilizações ocidentais). Resulta assim um filme que sabe olhar para a natureza, mas sem evitar um filtro pueril impregnado pela marca d’água sentimental da Disney.
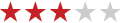
Duarte Mata

