
Vivemos tempos incertos, tempos potencialmente intolerantes sob uma nova administração política norte-americana. É normal assim que o cinema de 2016 reflita muitas das tensões que hoje se fazem sentir; é normal ver um filme como “Moonlight“, uma carta de coração aberto a todos os que alguma vez se sentiram ostracizados, quer pela sua cor da pele, quer pela orientação sexual (aqui até um vector mais fulcral que o próprio racismo), ser conduzido a um estatuto de filme especial.
É neste manifesto anti-“bullying” que “Moonlight” vive e se auto-protege, bem ancorado por planos conscientes que pretendem simular uma experiência extra-sensorial que infelizmente o filme acaba por não conseguir atingir. Não por falta de tentativa: como disse, a realização de Barry Jenkins e a palete de cores azuladas de James Laxton são vistosas, marcando explícitamente o significado do título do filme, relatado no decurso do seu primeiro ato.
Com a ação tradicional de três atos dividida em três segmentos, acompanhamos a odisseia de um negro, homossexual e a trajetória na tentativa de construção de uma identidade, tendo em conta as suas características peculiares serem alvo de discriminação (e sabemos que os subgrupos/comunidades nas quais se poderia inserir – i.e. a comunidade negra e a LGBT – não se dão em si totalmente bem).
O primeiro segmento intitula-se “Little”, o segundo “Chiron” e o terceiro “Black”. O primeiro e terceiro nomes são alcunhas atribuídas ao protagonista, uma depreciativamente, outra carinhosamente; o segundo segmento marca o processo difícil de adolescência, com o acima mencionado “bullying” (escolar) a ser retratado aqui a terminar de forma ligeiramente trágica. Para Little/Chiron/Black, na ausência do pai e na presença de uma mãe viciada em “crack” (Naomie Harris, nomeada aos Óscars), a necessidade de refúgio é tão crucial como difícil de concretizar. O jovem acaba ainda assim por formar amizade com o traficante de drogas da sua mãe (Mahershala Ali, o outro nomeado, mas com menos cenas a gritar por atenção), e um colega de escola (Kevin), também interpretado por três atores nos três segmentos.

Os atores Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes merecem destaque devido pela entrega dada ao papel titular nas suas três fases da vida, justificando as suas diferenças com as próprias mudanças do protagonista (sobretudo do segundo para o terceiro ato), e o elenco no geral, que inclui ainda a artista musical-virada-atriz Janelle Monae (e que pode também ser vista no igualmente nomeado aos Óscars “Hidden Figures“) funciona de uma forma bastante orgânica. Mesmo pesando excelentes momentos (um passado na praia é particularmente dos momentos mais bonitos vistos no último ano) e o sólido conjunto de atores, a película peca ainda assim por sobrepontuar sempre a sua mensagem para o espectador – com o coração assim tão aberto, é compreensível.
Não é um erro fatal, mas feito o aviso que não estamos (mais uma vez!) perante a grande obra-prima do ano que os Estados Unidos querem fazer vender, podemos apreciar a película mais como ela é, e não pelo que aparenta: um pequeno filme político (cuja ideologia serve ultimamente como fator diferencial dos restantes, claro) sobre esse estranho objeto universal chamado amor.
O melhor: O conjunto de atores, e a eficácia geral técnica
O pior: a sobrepontuação da mensagem latente constante
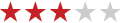
André Gonçalves

