Alguém gosta de brincar aos thrillers e essa pessoa certamente não é Tate Taylor. O homem por detrás do “querido“, mas nada transgressivo, The Help: As Serviçais, adapta o grande êxito literário de Paula Hawkins, A Girl on a Train (A Rapariga do Comboio), uma trama que nos leva ao nosso consciente voyeurista adensado num plot de conspirações a lá hitchcockianas (a culpa e comboios tem muito a sua “cara“). Infelizmente, tal como o livro, o filme acaba por sofrer de uma premissa sob direcções óbvias, neste caso o “wannabe” de um arquétipo fincheriano a tenta “replicar” o sucesso de Gone Girl.
Pois, conturbações matrimoniais são tema delicado e certeiro na devida sensibilidade, em A Rapariga do Comboio, essa mesma “sensibilidade” é substituída por um receio rigoroso de não falhar o alvo. A começar pelo início, onde a narrativa ramifica por capítulos literários que por sua vez saltam como “saltimbancos” por entre as diferentes perspetivas das personagens. Uma indicação de que os envolvidos não estavam meramente interessados em atribuir “folgas” para “criatividades” e liberdades de algum género. O plano é adaptar e agradar os leitores, mais do que reinventar o que está escrito. Mesmo que para isso, ofereça-nos um início fiel a Paula Hawkins, para depois esquecer de redefinir tal formula durante os prolongamentos.
Até porque narrativas em paralelo não é coisa que agrade o público mainstream, ou será que agrada? A verdade é que esta teia de enredos e subenredos que nos levam ao fundo mistério perde as suas determinantes definições, assim como o filme avança até aos eventuais plot twists que vão surgindo, sistematicamente como manda a sapatilha. Falta o desafio no espectador, falta o lançar da dúvida e os “iscos” à nossa mercê. Mas não, A Rapariga no Comboio prefere apostar no seguro, segue as páginas do livro como um esqueleto do guião, sem perceber que é preciso trabalhar relações e personagens secundárias, é sim, preciso separar as águas da matéria-prima e da adaptação.
Tate Taylor atribui o seu quê de profissionalismo, a sensação de que estamos a ver um thriller de categoria A sem saber que tudo resume a uma chapa B preguiçosa, automática, limpa e incoerente na trama e míope na realização (faz lembrar o equivoco de o Código DaVinci). Um confirmado receio de criar um “universo” para além das descrições contidas nas páginas de Paula Hawkins, o que só resume a ilustrações sem alma. Por fim, lanço o caos, Emma Blunt não é par para o filme, para além do seu esforço em vão, o seu casting é mais que uma desculpa do “tratamento estético” que muita da Hollywood aposta (quem leu o livro vai perceber o que digo). Em contraponto, Haley Bennett parece ter sido uma escolha acertada.
Fica para a próxima paragem!
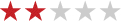
Hugo Gomes

