
Haverá cineasta mais consistente na sua visão e na sua qualidade atualmente que Quentin Tarantino?
Seria fácil colocá-lo na prateleira onde todos exceto os mais fanáticos colocaram Woody Allen há já um par de décadas atrás: um autêntico cineasta (argumentista, autor, narrador, ator, enfim… pau para toda a obra) com cunho próprio que fez escola e começou a aborrecer-nos ao fim da enésima obra com a rotina do costume. Mas Tarantino ainda só vai na sua 8ª longa metragem em 25 anos, enquanto que Allen tinha a certo ponto o hábito de “presentear” o espectador com uma fita por ano, obras que ainda assim passaram a revelar uma certa bipolaridade (havia o Allen a personificar Bergman, e o Allen puramente cómico). Tarantino tem sido sempre Tarantino.
E que belíssima oitava, ombreando facilmente com a sua estreia (“Cães Danados“) e picos mais mediáticos (“Kill Bill”, “Pulp Fiction”, “Sacanas Sem Lei”). Repleta, sim, de tudo o que poderíamos esperar do “enfant terrible” mais bem sucedido da sua geração: monólogos longos e teatrais, de uma atenção à palavra dita sempre arrebatadora, litros de sangue, comentário social e violências suficiente para envergonhar, enfurecer e/ou extasiar todos os grupos sociais; e uma vontade de arriscar em não se editar (a duração de filme ultrapassa as 3 horas!),
Há também aqui, como não podia deixar de faltar, a necessidade de prestar vassalagem ao passado que tanta fita de cassete terá feito gastar na sua veneração. Desta feita, a principal referência óbvia é o clássico de culto The Thing, de John Carpenter – ao qual Tarantino foi buscar o cenário invernoso que fecha todo um conjunto de personagens-arquétipo, o compositor Ennio Morricone, a estrela principal Kurt Russell e a sinopse sobre “ninguém ser o que parece“.
Tarantino continua a fazer o que esperamos dele, e talvez como choque maior para quem se aventure a visitar esta América fetichista, continua a fazê-lo melhor que qualquer um dos seus discípulos ou mestres vivos. Só por isso, e só para testemunhar o que é cinema autêntico e não política de pacotilha encaixada num formato académico, valeria a pena pagar o preço normal do bilhete. Haveria tanto mais para falar, como a decisão nada aleatória de filmar em 70mm, de como os seus atores continuam a agarrar os seus arquétipos com a mesma ferocidade com que a violência brota do ecrã (Jennifer Jason Leigh, mas não só!). Mas o melhor é mesmo arranjar tempo e uma sala escura, e deixar-se enamorar ou enfurecer com tamanha determinação, como da primeira vez.
O melhor: Tarantino, sempre um passo à frente do espectador nas suas funções de diretor e argumentista.
O pior: Nada a assinalar.
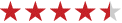
André Gonçalves

