
Há muitos, muitos anos atrás, numa galáxia bem próxima, George Lucas levava às salas o primeiro filme de uma saga que marcou a história do cinema – primeiro porque criou uma franquia de culto com proporções bíblicas (com seguidores e fanáticos) e depois porque, de certa maneira, “encurralou” o seu criador a uma máquina industrial na era pós-blockbusters com todo um naipe de sequelas, prequelas e merchandise associado ($ha-$hing) que contaminaram a cultura pop.
Os primeiros filmes da Guerra nas Estrelas – Uma Nova Esperança, O Império Contra Ataca, O Regresso de Jedi – eram bastante simples, mas extremamente eficazes e espectaculares, não só porque apresentavam questões milenares (o bem contra o mal, o código de honra dos guerreiros, a existência de uma força/energia universal) num “setting” espacial, mas porque tinham protagonistas memoráveis (Luke, Han Solo, Leia, Darth Vader), e secundários míticos e místicos (Yoda, Chewbaca, C-3PO, R2-D2, os Ewoks, etc). A isto somava-se o facto de Lucas não se preocupar em sujar as mãos e viajar de planeta em planeta, entre terrenos desérticos, pantanosos, rochosos ou mesmo em meios urbanos ou estações espaciais bélicas tecnologicamente avançadas, apresentando todo um universo em conflito, onde circulavam seres de todas as espécies, cores e feitios. Este misto de elementos, bem como o facto da saga surgir numa era de massificação do cinema em casa (na TV, em vídeo), ajudou a que a trilogia chegasse a mais público, e serviu de catapulta para o seu sucesso e culto.
Anos depois, Lucas voltou à carga para estudar novamente o conflito entre o bem o mal, a dicotomia totalitarismo/democracia e a corrupção, não só da Republica como um todo, mas também dos ideais de alguém que inicialmente se apresentava como um herói voluntarioso mas que posteriormente se tornaria no grande vilão.
Surgem então nas salas os episódios I, II e II, aqueles em que Lucas manifestamente falha em várias direcções. Ao contrário dos filmes realizados nos anos 70 e 80, esta nova trilogia surgia numa era em que tinham surgido grandes avanços tecnológicos a nível dos CGI (T2, Parque Jurássico, Senhor dos Anéis, etc), ao ponto disso se tornar, de mãos dadas com o design de produção, num dos primeiros focos de atenção do realizador. O resultado final desiludiu, não só porque estas três novas entradas na saga apresentavam grandes diferenças na qualidade individual das partes (Ataque dos Clones é, resumidamente, uma desgraça), mas porque no geral todos careciam de personagens suficientemente capazes de rivalizar/competir com as dos primeiros filmes.
Vários erros de casting, como a escolha de Hayden Christensen para o papel de Anakin Skywalker, ajudaram ainda a minar o dramatismo exigido para fazer uma boa ligação ao que se seguia cronologicamente, resultando tudo num produto menor, até mesmo desprezado por muitos.
É assim com curiosidade que o espectador vai – 38 anos depois do primeiro filme, 10 anos depois de A Vingança dos Sith – ver O Despertar da Força, a sétima obra da franquia, agora nas mãos da Disney, que claramente pretende estimular e criar uma nova série de filmes deste universo. Para isso foi chamado o “paramédico” de serviço em Hollywood, J.J. Abrams, ele que já serviu duas vezes como o “desfibrilador” de sagas (revitalizou Missão Impossível e Star Trek). Mais uma vez, e sem verdadeiramente deslumbrar, J.J. cumpre a missão (e sem recorrer excessivamente ao Lens Flare).
Na verdade, este Episódio VII pode-se definir como um filme de transição que oxigena este universo há tantos anos afastado do grande ecrã. Isto não só porque vai buscar muitas das personagens do passado enquanto introduz novas para continuarem o legado, mas porque, acima de tudo e em termos de ambiente, é um objeto rendido à nostalgia, prestando uma clara veneração aos três primeiros filmes (IV, V e VI) e, em particular, a muitos dos temas e conflitos emocionais aí presentes.

Nessa reverência óbvia, destaque ainda para o trabalho de Dan Mindel na cinematografia, recuperando a luz do universo dos três primeiros filmes, a banda-sonora expressiva (mas não excessivamente espalhafatosa) de John Williams e uma fuga à excessiva pirotecnia e plastificação épica das batalhas que tanto massacraram o espectador nos episódios I, II, II.
Convém ainda referir que, apesar do regresso da velha trupe de rebeldes e do sentimento nostálgico sempre constante, o maior tempo de antena é mesmo dado a novas figuras: Rey (Daisy Ridley), uma sucateira do planeta Jakku, e Finn (John Boyega), um fugitivo da Primeira Ordem, o movimento que entretanto substituiu o antigo Império Galático. O duo, e em particular a desconhecida Daisy Ridley, cumpre com eficácia o que lhes é imposto, embora tenhamos consciência que ainda não têm a força (e a Força) para seguir sozinhos nesta batalha longe de terminar. Adam Driver também cumpre o seu papel, mas sobre este vamos, para já, ficar por aqui.
Uma nota ainda para o regresso da criação de personagens secundárias com mística, algo que não se via desde o Episódio VI, em particular o novo androide de serviço, o BB-8, que manifestamente tem o charme e carisma para conquistar as novas e as velhas audiências sem que para isso tenha de deixar R2-D2 com ciúmes (esta personagem por si só será um sucesso de merchandise).
E embora no todo não estejamos perante um objeto completamente arrebatador, para além de sentirmos por vezes que a franquia anda em loop (temas, conflitos, disfunções familiares galáticas, etc), está sempre presente o sentimento que Han Solo transmite a Chewbaca a certo momento: “Chewie, We’re Home“.
O Melhor: Star Wars mostra, por exemplo, a Terminator como a mistura do “novo” e do “velho” pode ser sentida de forma natural e produzir espetáculo
O Pior: Apesar da nostalgia, há a sensação que estamos perante um best-of da saga e que quase tudo é apenas uma reciclagem
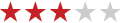
Jorge Pereira

