
Passaram já 40 anos desde a estreia de O Importante é Amar (L’Important c’est d’aimer), o magnífico filme de Andrej Zulawski em que Romy Schneider se desalinhava a ler Shakespeare, aflita com o texto que não conseguia dizer, perdida em não poder. Schneider, Nadine Chevalier, Lady Anne, tudo nomes próprios que denotam uma relação sinuosa com o papel da representação, que se manifestam em absurdos jogos de maquiavélicas maquinações, torpes estratagemas, e tristes amores.
Primeiro filme em território francês do realizador polaco após ter sido proibido de filmar no seu próprio país – em função do escândalo provocado pelo anterior Diabel – O Importante é Amar inaugura aquilo que alguma da crítica designa por “trilogia do amor“; A Mulher Pública (La Femme Publique) e A Raiva Do Amor (L’amour Braque), os outros dois filmes deste conjunto, inscrevem-se na obra de Zulawski sobre o auspício de uma acentuada tendência para uma estilização assombrosa e destemida, características já vincadas nesta adaptação de um romance de Christopher Frank (Nuit Americaine, mas sem relação com o filme com o mesmo título realizado por François Truffaut), e que aliás bem podemos estender a todo o seu cinema.
Schneider, pela forma como dá corpo a Nadine Chevalier – uma atriz em ruína que se entrega a papéis menos reconhecidos em filmes softcore enquanto não surge nada melhor -, é sem qualquer sombra de dúvida a peça fundamental do filme de Zulawski. Impressiona sobretudo pela forma como transporta para a personagem uma fragilidade que se pressente ser sua, muito à custa de um estilo performativo excessivo, nervoso, obsessivo. Durante a rodagem de um filme, Nadine trava conhecimento com Servais (Fabio Testi), um fotógrafo com interesses puramente mercantis que se apaixona por si e a decide ajudar. Servais, graças aos seus esquemas mais ou menos excêntricos e rocambolescamente criminosos, ajuda a financiar uma produção teatral da peça Richard III de William Shakespeare, possibilitando assim o regresso de Nadine à ribalta com um grande papel: Lady Anne, nem mais. Quanto ao papel de Richard III, na peça dentro do filme, caberá ao inigualável Klaus Kinsky, o maior dos maiores. Logo após a estreia de Ricardo III e depois do jantar com o elenco, surgem as notícias das primeiras críticas: “Excessiva, negra, over the top; injustificadamente expressionista, a sua encenação é uma mistura de contradições e ideias aleatórias cujo único resultado parece ser o caos.” O veredicto: um fiasco. Kinsky fica furioso e basta que alguém lhe dê um toque acidental no seu precioso capote para desencadear uma cena de pancadaria de proporções “Kinskyanas“.

Singularíssima a cena de abertura, com Nadine a ser dirigida numa violenta e difícil sequência de um qualquer filme, na qual a atriz se vê obrigada a repetir um aflitivo “amo-te” como se a sua vida dependesse disso, debruçada sobre o corpo ensanguentado do seu amante. É uma “mise-en-abyme” que traz para primeiro plano a relação (ou, antes, o conflito) entre “representação” e “verdade”, numa oposição que é intensificada pela presença do fotógrafo no set de rodagem. Uma troca de olhares é quanto basta para que os motivos lúgubres e melancólicos da banda sonora se façam logo anunciar, sinalizando a atração fatal – e impossível, pois Nadine é casada – entre ambos.
Face ao carisma encantador de Nadine pouco pode o olhar mecânico, o da fotografia e o do cinema, que naquele momento fulcral se rende à sua vontade. Através de uma série de planos subjectivos vamos ao encontro de um dos momentos mais memoráveis do cinema de Zulaswki: Nadine, em choro, grita na direção do fotógrafo: “Pas de Photos!“, “não tirem fotografias!“, mas a nudez do olhar que inflige no espectador é uma violentíssima projecção dessa mesma intimidade que, paradoxalmente, procura proteger. É difícil justificar a ligação que se estabelece entre ambos. Scheneider dirá em entrevista: “Ser actor é um trabalho difícil; é um acto de amor. Quase como um vício.” Podemos ficar a pensar nisso.
Zulawski estabelece um jogo de equivalências entre diferentes “escolas” de representação, que no fundo espelham o seu interesse em trabalhar a narrativa de forma intertextual: cinema, fotografia e teatro são abordados em função dos diferentes regimes de representação, ainda que o principal interesse pareça ser uma espécie de estudo sobre a figura do actor. Por outro lado, não serão de excluir outras leituras, estando também em causa a relação que aquelas artes têm com o mercado – consideração aliás importante face à situação que levou o próprio Zulawski a filmar em França.

De forma intempestiva e sem grandes cerimónias, Zulawski interrompe frequentemente a ilusão de realidade provocada pelo cinema, abrindo poderosas rupturas na continuidade dramática do filme. Tanto o uso frequente e injustificado de zoom, como os cortes abruptos na transição entre cenas, ou mesmo uma banda sonora altamente desestabilizadora na forma como se sobrepõe às imagens, configuram uma espécie de abismo intransponível entre a verdade da vida e a mentira do teatro. O filme acaba como começa, mas o círculo não é perfeito.
Um dos traços estilísticos mais pronunciados do cinema de Zulawski prende-se com o uso frequente de câmara móvel que se movimenta vertiginosamente à volta dos personagens, envolvendo-nos com uma urgência sempre próxima do reflexivo, de formar a exacerbar a dimensão “performativa” ou “plástica” da sua encenação. A impressão com que se perante da interpretação de Schneider é uma sensação de desconforto, justamente por se perceber que aquilo que vemos resulta de uma relação violenta com a câmara, quer dizer, com o cinema e os seus crimes.
O Melhor: O excesso caótico e hiperbólico, do cinema, do teatro, da vida.
O Pior: Nada a apontar.
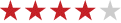
José Raposo

