
Barbet Schroeder estreia-se na realização aos 28 anos com More, filme atraído por uma certa liberdade do excesso que dá corpo a uma era cada vez mais distante – os finais dos anos 60 -, mas essa não foi a sua primeira experiência no mundo do cinema. Aos 21, em conjunto com Éric Rohmer, funda a produtora Les Films du Losange, de onde sairão filmes de realizadores como Rivette ou Godard, e também dos próprios Rohmer e Schroeder. Significativa sobretudo a sua relação com Rohmer, para quem produz o ciclo de 6 filmes “Contos Morais” e uma série de outras obras igualmente emblemáticas, como é o caso de Pauline à la plage. Portanto, falar de Schroeder é falar também da Nouvelle Vague e do seu lugar no cinema.
A espontaneidade e força criativa com que Schroeder conviveu e ajudou a desenvolver no contexto da Nouvelle Vague são assim, e sem surpresa, aspetos marcantes de More. Mas não é nesse legado cinematográfico que se pensa quando se volta a olhar para este filme de culto passados já mais de 40 anos sobre a sua estreia.
A história de Stephan (Klaus Grunberg) e Estelle (Mimsy Farmer), perdidos nos prazeres do corpo e das drogas numa Ibiza exótica e fora deste mundo, traz à memória algumas das utopias e contradições dos sixties; hoje (é preciso reconhecer) perderam qualquer tipo de agência, sendo antes uma imagem chic, amiga da circulação acelerada pelas redes do capital. A dada altura, já com Stephan transformado num Ícaro enfeitiçado pelo excesso e empenhado em chutar cavalo com a convicção de um junkie, ouvimos em off uma reflexão retirada do seu diário: “O ritmo dos chutos começou a acelerar. O tempo….começava a desaparecer”. Mal podia ele saber do que estava ainda por vir, que o tempo acabaria mesmo por desaparecer; não num fogo de luz que tudo ama e acende, mas consumindo-se antes nos ecrãs dos zeros e uns, os tais dos empreendedores de fato e gravata. O capital é mesmo mais acelerado que a heroína, lenta como um deserto.
Deste modo, podemos ver em Stephan, que resolve ir à aventura acabados os estudos em matemática, um personagem que prenuncia de forma trágica certos mecanismos do nosso tempo. É certo que a Schroeder nada disto devia preocupar, mas a ironia é demasiadamente expressiva para que a possamos ignorar: quando as coisas dão para o torto e o tal preço pelo prazer começa a ser cobrado, Stephan é obrigado a trabalhar num bar de turistas para pagar uma dívida. Nessa altura, confessa sentir-se em harmonia com o mundo pela primeira vez.
Hoje, apetece dizer, essa harmonia já parece ser mais difícil de alcançar. Não é que faltem oportunidades de experimentar as harmonias dos Starbucks e call centers, que entretanto vieram fertilizar a paisagem com uma velocidade alucinante (longe disso); ou que um hedonismo guloso e hiperbólico tenha deixado subitamente de provocar desejo e atração. A ingenuidade profundamente romântica a que Stephan e Estelle dão corpo e se entregam, a mesma responsável por tão estupenda harmonia, é que já parece esgotada e “fora de moda”, ou fora do nosso tempo. Stephan queria queimar todas as pontes e todas as fórmulas, mas essa faceta de feiticeiro de Oz é hoje representada pelos cavaleiros negros dos mercados financeiros, que a cada sinal de aceleração vital atribuem um algoritmo cheio de matemáticas ocultas e misteriosas. Mas Schroeder não deve ter pensado em nada nisto, por mais viagens pelo tempo que o LSD lhe possa ter oferecido.
A Schroeder interessava mais a infusão da ficção num registo documental, onde há lugar para um esboço de alguns traços biográficos: a casa junto ao mar onde o casal protagonista explora os horizontes do possível, é a mesma casa onde a mãe de Schroeder viveu durante mais de 20 anos (e é também cenário do seu filme mais recente, “Amnésia”, que chega às salas portuguesas acompanhado de “More”). E só muito timidamente o jovem Schroeder mergulha na experiência dos sixties. A celebrada banda sonora assinada pelos Pink Floyd – irão voltar a colaborar três anos mais tarde, em “Valley (Obscured by Clouds)”-, mais do que estabelecer uma experiência sonora psicadélica, acaba por servir de suporte ilustrativo de paisagens naturais e estados de espírito pitorescos, em função daquilo que já parece ser uma memória do psicadelismo: a sensação com que se fica é que já em 1969 o que estava em causa era a cristalização da pose hippie numa imagem pronta a consumir.
O melhor: Um poderoso artefacto do cinema do final dos anos 1960.
O pior: Nada a apontar.
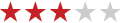
José Raposo

