
Senhor Manglehorn é um filme que nos deixa com uma sensação de uma desconhecida estranheza, como se déssemos com a peça de um puzzle debaixo do sofá anos depois de o termos tentado completar. Ser Manglehorn, o serralheiro protagonizado por Al Pacino, não é fácil: antigo treinador de baseball, com um casamento falhado mal digerido e uma antiga paixão mal resolvida a pesarem-lhe a consciência, é um tipo cheio de bagagem, com um historial respeitável. Nisso há também qualquer coisa de universal, que transcende o espaço específico da zona do Texas onde decorre a acção do filme. Centrando no quotidiano de Manglehorn, o filme procura esboçar um olhar na direção dos erros passados e oportunidades perdidas, em tons pretensamente poéticos.
O que é aqui “estranho”, senão mesmo desconcertante, é a forma como David Gordon Green vai construindo o retrato desta espécie de familiar distante de Harvey Pekar, centrando todo o universo na figura de Al Pacino mediante um exercício de estilo pouco convincente: como as “experiências” da montagem (com uma acentuada atração por “dissolves”) não fazem outra coisa senão chamar atenção para si mesmas, a dada altura reparamos que temos estado a olhar para o Al Pacino e que já há muito perdemos o interesse no puzzle que é Manglehorn, a personagem.
Quando de tempos a tempos, como na inspirada a sequência do jantar romântico com Dawn (Holly Hunter), uma funcionária do banco do qual é cliente com quem costuma trocar dois dedos de conversa, lá encontramos a peça do puzzle e Manglehorn adquire por fim a gravidade de um personagem, já é tarde demais. Mas não é sempre tarde demais?
Há uma (inesperada?) sintonia entre aquilo que intuímos ser a vida interior de Manglehorn e a confusão formal do filme, como nos inúmeros voice-over que vão pontuado a acção e que servem de mecanismo de suporte narrativo. Essa relação entre interior e exterior que a própria montagem sugere e parece acentuar, remete-nos aliás para um registo mais expressionista daquele que encontramos habitualmente no “filme-retrato”.
Ainda que não nos convençamos inteiramente da validade dessa abordagem, há aqui apesar de tudo isso uma ideia de cinema, uma tentativa de figurar o mundo a partir da imagem em movimento. Mas esse outro filme, aquele que poderia ter sido mas não é, sai sempre derrotado pela pobreza da encenação – a dada altura Dawn empurra a areia de um vaso partido acidentalmente por Manglehorn para debaixo do tapete da sala…! Esta “ilustração” meio infantil da máxima “show, don’t tell“, é uma abordagem dramática de efeitos nefastos que, para além de nos forçar a considerar a hipótese do guionista estreante Paul Logan não confiar inteiramente nos seus espectadores, acaba por fazer com que tudo resulte num tom forçado e desinteressado
O que pensar do contraste entre a gravidade dos grandes planos sobre o rosto de Manglehorn e o desenvolvimento dramático do filme, senão apontar aí uma contradição entre aquilo que parece ser a expectativa de uma forte ligação emocional com o espectador, e a opção por uma estrutura episódica que mantém tudo à distância? E, já que perguntamos, qual o sentido da citação da sequência mais emblemática do “Weekend” do Godard? Homenagem (vazia)? Show-off (gratuito)?
Fora o inesperado diálogo entre Manglehorn e Dawn naquele jantar infeliz, há ainda um outro momento com algum fulgor capaz de despertar interesse. Mas nunca estão à altura do seu potencial dramático. Para quê convidar um Harmony Korine “anfetaminado” e “clownesco” a debitar uma torrente de diálogo com ares de improviso, senão se é capaz de aguentar um plano por mais de cinco segundos?
O melhor: Al Pacino e Harmony Korine a contracenarem juntos é sempre uma proposta bizarra, por muito que tenha ficado aquém das expetativas.
O pior: A estrutura episódica, tal como trabalhada por Paul Logan, não condiz com o desenvolvimento dramático que um personagem como Manglehorn exige.
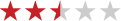
José Raposo

