
A pertinência histórica de Mulher de Ouro, de Simon Curtis, talvez advenha menos do biopic encapotado – a IIª Guerra Mundial em pano de fundo – do que de tendências narrativas e formais que inscrevem o filme num acervo espontâneo, de cariz geracional e marcadamente impessoal. Com a cumplicidade filial de um imponente rolo compressor – a estética publicitária, dos enquadramentos aéreos e das focagens e desfocagens -, a esfera Hollywood pratica a diluição progressiva do filme de género, aglutinando códigos de proveniências diversas no anonimato híbrido de uma composição indistinta – neste caso, Mulher de Ouro estará algures entre o biopic e o filme de ação, ou entre o drama histórico e o aparato judicial.
Baseado no caso verídico de Maria Altmann – a mulher que processou o estado austríaco pela apropriação indevida de várias obras de arte, entre as quais a Mulher de Ouro (ou Retrato de Adele Bloch-Bauer), de Klimt -, o filme de Simon Curtis abandona rapidamente a “rigidez inflexível” da carga documental – patente nos parâmetros biográficos – para se entregar ao virtuosismo onanista do aparato formal. A composição das personagens – a oscilação vacilante de Maria Altmann (Helen Mirren) perante o enredo burocrático, entre a indignação e a resignação; o “coming of age” agitado de Randol Schoenberg (Ryan Reynolds), jovem advogado ambicioso e ingénuo, preso entre um processo judicial intrincado e a crescente responsabilidade familiar – é descuidada, dificultando a suspensão da descrença pela exposição leviana dos adereços narrativos: a herança austríaca de Altmann sintetiza-se numa referência a Strudel e no sotaque carregado, e a fragilidade emocional de Schoenberg é simbolizada pelos óculos de aros finos ou por um telefonema inconveniente da mãe.
Num processo de reciclagem que parece – cada vez mais – testar a memória recente dos espectadores, Mulher de Ouro aproxima-se perigosamente de Philomena (2013), de Stephen Frears – a dinâmica de um par de protagonistas com grande diferença de idades; a cumplicidade crescente do par perante a convivência forçada numa longa viagem; os comentários sarcásticos da mulher idosa enquanto expressão de inesperada agudeza de espírito -, de Argo (2012), de Ben Affleck – o impasse de uma salvação que depende de um voo altamente escrutinado por autoridades inimigas -, ou, talvez de forma mais flagrante, de The Monuments Men (2014), de George Clooney – um grupo de soldados americanos é incumbido de recuperar obras de arte roubadas pelo exército alemão durante a IIª Guerra Mundial.
Mas a leviandade recriminável deste filme e, de modo generalizado, dos filmes contemporâneos de Hollywood, no seu todo, deve-se menos a esse impasse cronológico do que à irresponsabilidade ética (e estética) da forma. Ao nivelar o estatuto da informação apresentada, a displicência irrefletida da estética publicitária – variação de distâncias focais e filtros fotográficos; aceleramento desgovernado da velocidade da edição; presença ubíqua e distensiva da banda sonora – faz com que a motivação ética do filme incorra em flagrante contradição com o estatuto das imagens apresentadas. A recriminação latente das práticas do nacional-socialismo alemão, ao nível narrativo, é contrariada por planos estilizados dos militares alemães – enquadramento em contra-picado do símbolo Nazi, num plano em que o vermelho forte da bandeira se sobrepõe ao azul suave do céu -, em que, por via da negligência formal, parecem celebrar-se essas práticas.
O contratempo óbvio de uma estética predicada na aparência – a linguagem publicitária – prende-se com a desmaterialização consequente da matéria representada. Talvez pela oposição vincada da aparência eloquente a uma essência inexistente, os momentos em que Curtis solicita ao elenco qualquer entrega emocional – a afetação artificiosa de Helen Mirren perante o quadro de Klimt; o rosto inexpressivo de Ryan Reynolds diante da orquestra de Viena – são particularmente pobres.
Impulsionado pela permeabilidade crescente da fronteira entre cinema e publicidade, o cinema industrial americano parece enunciar, na atualidade, a renovação das proibições do Código Hays, mas desta vez através de restrições subliminares impostas por essa estética uniformizada, que nivela de forma imprudente toda a informação. John Cassavetes profetizava mais do que podia imaginar quando dizia que, se as pessoas queriam ver filmes bonitos, que vissem antes a publicidade que se fazia para televisão. Hoje, os dois universos são perfeitamente indistintos.
O melhor: o quadro de Klimt.
O pior: a estética publicitária.
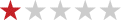
João Carpinteiro

