
Nesta altura, quem vai se transformando numa lenda no mundo cibernético não é o herói-protaganista de Clint Eastwood mas o nenuco que a dada altura Chris (Bradley Cooper) segura no colo como se fosse a sua filha recém-nascida. Mais do que um facto anedótico, o achado presta-se lindamente para simbolizar o que se passa aqui: fora a personagem de Cooper, tudo o resto é acessório – tanto os seus camaradas SEALs, que vão e voltam sem deixar vestígios na memória, quanto a sua esposa Taya (Sienna Miler) – uma “boneca” que na meia-dúzia de vezes em que aparece repete as expressões faciais e diz os mesmos diálogos.
A razão é fácil de perceber: American Sniper não faz qualquer sentido como objeto desideologizado e querer fazer uma leitura puramente cinematográfica do filme é deixar passar completamente ao lado o alvo deste tiro de Eastwood. Neste monumento ao herói americano, ele sacrifica tudo em nome de uma Ideia e a única abébia à arenga proselitista que o realizador concede ao espectador é a tentativa de abordagem psicológica do soldado que não consegue se desligar dos campos de batalha – tema abordado com eficácia infinitamente superior por Kathryn Bigelow no seu Estado de Guerra.
O filme narra a história de um cowboy que assiste aos ataques às embaixadas norte-americanas do Quénia e da Tanzânia e, a gota d’água, às torres gémeas, decidindo que tem de sacrificar a vida ao seu país – em nome, como ele próprio diz, da pátria, da família e de Deus. Na guerra ele torna-se uma lenda pela quantidade de “selvagens” (é assim que os iraquianos são referidos no filme) que matou.
Como o realizador já nos habituou, quem acompanha as suas obras com umas tantas boas surpresas fica inocentemente à espera de uma redenção que nunca chega: este obra nunca pretende ser outra coisa que não uma defesa da ideologia militarista texana mais primitiva onde, como diria George Bush, tem de se combater o Eixo do Mal em nome do que “é bom e justo”.
Nesta lógica, não existem “bons e justos” do outro lado, mas simplesmente “homens maus” (parece que se está num conto infantil) que justificam invasões de domicílios, agressões e extorsões a cidadãos comuns, assassínio de crianças e outras barbáries. Mustafá, um sniper adversário de Chris, não tem direito a hinos patrióticos com bandeirinhas à chuva: está do outro lado, portanto, é mau. Ocorre que o ex-presidente norte-americano era um político pragmático e limitava-se a dar vida aos discursos elaborados pelos seus assessores. Já Eastwood é um idealista ingénuo a apregoar uma guerra territorial de invasão que já só é relevante do ponto de vista económico mas dificilmente do político. O grito do realizador é contra a decadência do conceito de nação somada à dificuldade em perceber que o maior inimigo da sua amada pátria é o poderio financeiro e demográfico da China – que não pode ser destruído à cacetada.
Como peça artística e filosófica, American Sniper nunca dá espaço à bastante credível hipótese de que a guerra no Iraque foi uma invasão a uma nação soberana com justificações baseadas em mentiras (mais tarde comprovadas) e com um intuito puramente espoliativo. Por outro lado, é certo que ele pode acreditar no que bem entender e lhe deve ser concedido o mesmo direito de liberdade de expressão que se defendeu com veemência dias atrás no episódio do Charlie Hebdo. Mas o problema é exatamente este: diante dos terríveis acontecimentos de Paris, esta é uma peça de propaganda que chega a más horas, com o cineasta a defender por portas travessas a mesma forma de ação dos fundamentalistas e a sua noção de Guerra Santa.
O MELHOR: o esforço de Bradley Cooper, artístico e físico, é assinalável
O PIOR: uma proposta esmagada por uma propaganda que chega a más horas
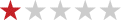
Roni Nunes

