
Terry Gilliam voltou à ficção científica neste filme ao que o próprio chamou o último de um “tríptico Orwelliano”, iniciado com Brasil – O Outro Lado do Sonho (ao fim de quase 30 anos, ainda o seu melhor filme) e seguido pelo mais célebre 12 Macacos. E, apesar de apresentar fortes semelhanças com estes dois (tanto em estilo, como conteúdo), não chega a ter metade do carisma, da emoção ou do interesse de qualquer um deles fazendo-o, não só o mais fraco da trilogia, como, muito possivelmente (e aqui metemos as mãos no fogo), o pior Gilliam de sempre.
Qohen Leth (um Christopher Waltz em overacting aqui e ali, tão careca quanto os glúteos com os quais o filme insiste em começar e terminar) é um hacker sorumbático, que passa a sua angustiada existência num ir e vir entre uma igreja (o seu lar, uma das poucas metáforas notáveis do filme, tendo em conta o seu tema) e o emprego, esperando, ansioso, uma chamada difusa que lhe dirá o sentido da sua vida. Tenta obter autorização da empresa para trabalhar em casa a qual, finalmente, lhe é concedida, juntamente com uma proposta: a comprovação do Teorema Zero (apresentado num software, estilo jogo de computador), o qual pretende demonstrar a validade teórica do Big Crunch e, com ele, a futilidade de qualquer conjetura religiosa ou filosófica que justifique o propósito da vida.
Ora, não culpamos o cineasta por todos os defeitos deste filme. O principal está no argumento do estreante Pat Rushin, cheio de clichés (o interesse amoroso por uma prostituta com o coração de ouro, o génio informático filho de um magnata que não tinha tempo para ele, o que levou o primeiro a refugiar-se num mundo de tecnologia, etc.) e elaborado numa estrutura altamente formal e vendável, com diálogos facilmente esquecíveis e que existem apenas para justificar a hora e meia que se compromete a preencher. Mas percebe-se a razão da atração que o mesmo despertou no realizador: a sociedade distópica disfuncional, feita de câmaras, materialismos e paranóias; a necessidade de refúgio em sonhos e na beleza do sexo feminino; um protagonista exausto e desenquadrado com o meio cosmopolita em que foi inserido. Encontram-se todos estes tópicos na carreira de Gilliam e não apenas nos seus filmes sci-fi. Nem sequer a procura do propósito da existência humana é novidade na carreira deste realizador – O Rei Pescador e Delírio em Las Vegas, prévios esforços do cineasta, foram melhor sucedidos, sem precisarem de metade do alarido que este contém.
Mas o que falha neste filme é um protagonista desinteressante e com o qual não é permitido empatia (por maior que seja o número de grandes planos concedidos e de lágrimas forçadas), bem como a capacidade de convencer a audiência de que a película vai levar a algum lado. O próprio enredo amoroso tem mais de degradante que de romântico. Somos levados numa xaropada moralista que não se atreve a ser encarada frontalmente (subentenda-se, não é dito “o sentido da vida é…”, mas antes “o sentido da vida não é…”). O enredo é francamente pretensioso e tenta responder ao mais antigo enigma filosófico da história da humanidade pela matemática. Nunca consegue ser convincente, muito menos quando o resultado é tomado a priori como nulo e que, muito possivelmente, deixa implícito que a resposta está no amor. Maior previsibilidade seria impossível.
Sobre o elenco, de Matt Damon (apático como nunca o vimos, a representar o patrão de Qohen) a David Thewlis (no papel de supervisor), passando pela própria Tilda Swinton (uma psicóloga “interativa”), este é maioritariamente desaproveitado e colocado apenas para fins comerciais. Tudo isto recai sobre os ombros de Gilliam que, por maior que seja o esplendor visual que conceda ao filme (os primeiros 20 minutos nas ruas de uma Londres futurista são um verdadeiro regalo, despertando a nostalgia de Brasil), está desde Tideland – O Mundo ao Contrário a expor cada vez mais as fragilidades do seu cinema, num crescendo artificial, exibido numa mise-en-scène que passa despercebida, em ângulos obtusos e exaustivos.
O melhor: O aspecto visual reminiscente de Brasil, principalmente nos primeiros vinte minutos.
O pior: O argumento que não consegue dar a dimensão que pretende às personagens.
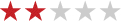
Duarte Mata

