Imagine-se um produto de cinema comercial onde praticamente não existem “good guys” e o aspeto de um banal filme de ação não passa de um simulacro para uma leitura acutilante e perfidamente realista de um futuro terrível e cada vez mais parecido com o mundo onde vivemos. Nesta obra não há espaço para redenções sentimentais moralizantes, lixo patriótico e soluções fáceis, assim como o militarismo não passa de um negócio espúrio. Da mesma forma, todo enredo deriva de uma violenta guerra de executivos sem escrúpulos a lutar por poder, dinheiro, cocaína e prostitutas. Cinematograficamente, um herói carismático, uma trupe de vilões inesquecíveis e uma magnífica história.
Tão raro quanto um eclipse, tal proeza existiu – e chama-se Robocop, a obra com a qual Paul Verhoeven, em 1987, ganhava embalo nos Estados Unidos após emigrar da Holanda com um magnífico Amor e Sangue (1985) e que ainda daria ao mundo mais duas obras de alto quilate – Desafio Total (outra vítima recente de um remake) e Instinto Fatal.
Era impossível competir com isso e, a bem da verdade, esse novo Robocop nem sequer tentou. Da obra de Verhoven, este novo foi buscar a única sequência em que a selvageria distópica e desalmada era interrompida por um rasgo de humanidade: o polícia transformado numa máquina de combate ao crime tem lapsos de memória e vai parar à sua antiga casa, onde encontra a foto da mulher e do filho. No primeiro filme, ficava-se por aí; neste, é o centro da história – resultando num curioso caso de se transformar num drama um dos raros filmes em que a pancadaria fazia todo o sentido.
Diante da mediocridade generalizada do cinema de ação, o Robocop do brasileiro José Padilha (dos dois “Tropa de Elite“) não está mal, preferindo dar um longo tempo de antena a uma humanização do “herói” muito pouco habitual. A primeira metade é um longuíssimo processo de adaptação de um homem a condição de robô e é partir desta dicotomia que o argumento de vai tentar enquadrar o resto.
O problema é que, além desta humanização ter dificuldades em fugir de um drama familiar sentimental pouco imaginativo, o alcance geral da obra é limitado e nunca esta constatação fica mais clara como nas sequências que abrem, intermediam e encerram o filme – um programa televisivo apresentado por Samuel L. Jackson. Estas cenas não só levam um banho de ritmo e ferocidade da obra do holandês como nem sequer sustentam uma comparação com o último “Hunger Games“, nem em agilidade, nem como crítica social. Ao mesmo tempo, a história perde a graça quando chega a hora de acelerar os frames e introduzir os esquemas conspiratórios, onde o filme cai numa banalidade que facilmente o identifica com outros tantos congéneres.
De qualquer forma, termina por servir para José Padilha tornar-se o brasileiro melhor situado no cenário internacional, depois do passo em falso de Fernando Meirelles (360), o terrível Pela Estrada Fora de Walter Salles e a derrocada, talvez definitiva, de Heitor Dhalia com o seu malfadado “Gone – 12 Horas para Viver“.
O Melhor: a tentativa de se explorar a dicotomia humano/robô
O Pior: o terço final, que o assemelha a tantos outros filmes do género
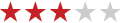
Roni Nunes

